Gol e Azul: já vale a pena apostar nas ações das aéreas?
Renegociar, flexibilizar e torcer pela vacina. Nossas duas aéreas de capital aberto se reinventam para recuperar a confiança dos investidores.


Todos os anos, 40 mil investidores lotam um ginásio de Omaha, Nebraska. É lá que acontece a convenção anual da holding Berkshire Hathaway, a empresa mais lucrativa dos EUA. Apesar das demonstrações financeiras e da apresentação de planos para o futuro, o momento mais aguardado do encontro fica por conta da fala de Warren Buffett. Maior investidor de todos os tempos, do alto de seus 90 anos recém-completados, o bilionário é o fundador da Berkshire, e principal cabeça da companhia.
O isolamento social provocado pelo coronavírus fez com que o evento fosse adaptado para uma versão on-line. Com cinco horas e meia de duração, o vídeo já foi visto por quase 1 milhão de pessoas desde aquele sábado, 2 de maio. Acompanhado pelo eco de um ginásio vazio e uma lata de Coca-Cola, Buffett surpreendeu a todos ao revelar que havia vendido todas as ações de companhias aéreas que sua empresa administrava. “Cometi um erro ao comprá-las”, disse.
No fim de 2019, a Berkshire Hathaway somava cerca de US$ 8 bilhões em participações nas americanas Delta, United, Southwest e American Airlines. Mas a pandemia fez com que voos, demandas, receitas, papéis em Wall Street, absolutamente tudo relacionado às aéreas entrasse em queda livre. Sem vislumbrar perspectivas para uma retomada, em abril o conglomerado de Buffett resolveu sair desse mercado – amargando os prejuízos com o derretimento das ações. “O mundo mudou para as companhias aéreas, e desejo a elas boa sorte.”
Mas o que o sinal emanado de Omaha significa para quem investe na B3, a bolsa brasileira? Primeiro, vale lembrar que Buffett é conhecido pelo seu conservadorismo. E também que a maioria das pessoas com perfil semelhante não costuma investir no setor aéreo. Quando arriscam, a participação em carteira é mínima. A razão para o tamanho pragmatismo é a natureza do negócio, extremamente complexa. A começar pelo custo fixo elevado.
Só a despesa com combustível corresponde a um terço dos custos operacionais, esteja o avião cheio ou quase vazio. Outro terço inclui o gasto com pessoal e leasing – como é chamado o aluguel das aeronaves, que continua sugando caixa mesmo com os aviões parados. A margem de lucro, por sua vez, é baixa. Logo, é preciso volume.
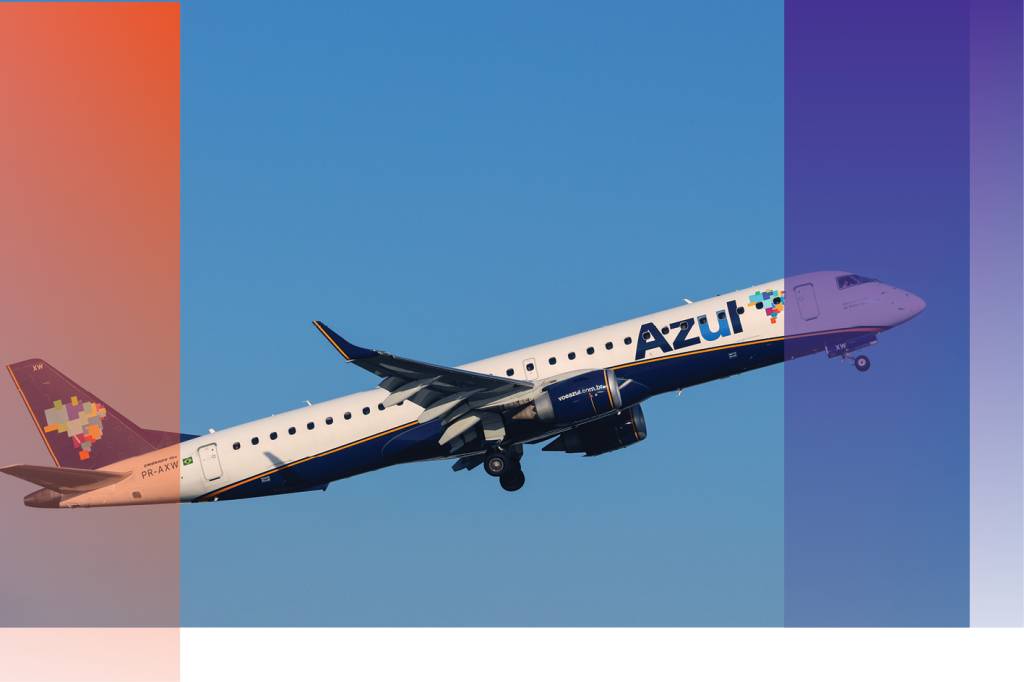
Como se não bastasse, a aviação está exposta a fatores que transcendem as habilidades da gestão. Entram aqui a variação cambial do dólar e o preço do petróleo. Ou então situações inesperadas. Elas podem ser simples, como a necessidade de desviar um voo em razão do mau tempo, ou drásticas, quando o número de passageiros cai de maneira vertiginosa. Isso acontece em momentos de crise econômica, atentados e guerras.
Ou então, como bem se sabe, uma pandemia. Sem demanda, não há voos. E sem voos não há receita. Mesmo assim, os custos de grande parte da operação seguem correndo. “Além do custo fixo elevado, a aviação exige mão de obra superespecializada, o que na crise torna difícil dispensar profissionais para recontratar quando as coisas melhoram”, explica Marcelo Bento Ribeiro, diretor de relações institucionais da Azul.
Apesar de sua volatilidade (ou mesmo por conta dela), o setor aéreo nunca deixou de atrair investidores. Tudo é uma questão de equacionar os fundamentos da empresa, analisar os movimentos do mercado e identificar o momento mais oportuno para comprar ações dela. No Brasil – que depois da falência da Avianca ficou com três grandes: Latam, Gol e Azul –, só as duas últimas têm capital aberto na B3 (GOLL4 e AZUL4). Por isso esta reportagem foca nelas.

Antes da pandemia, Gol e Azul operavam alavancadas – administrando dívidas altas. Por um lado, isso amplia as chances de aumentar o faturamento bruto (adquirindo mais aeronaves para atender mais passageiros, por exemplo); por outro, expõe a empresa a maiores riscos. “Elas vinham bem, melhorando resultados há um tempo e com ações próximas das máximas históricas”, afirma Luis Sales, analista da Guide Investimentos.
Mas tinha uma pandemia no meio do caminho. À medida que o coronavírus ganhava escala global, praticamente todos os segmentos recrudesceram. As exceções ficaram por conta de quem se beneficiou do isolamento social, como a Zoom (videochamadas), cujos papéis subiram 500% na Nasdaq em 2020, e o Magazine Luiza (e-commerce), com alta de 90% na B3. No setor aéreo, o cenário foi de terra arrasada. O medo levou ao fechamento das fronteiras e ao cancelamento massivo de voos. No auge da crise, em abril, a demanda por voos domésticos caiu 93%. Já o número de voos internacionais desabou 96%. Em quarentena, as companhias perderam mais de 80% do valor de mercado. A ação da Azul chegou a cair 83,4%, entre a máxima de R$ 62,41, em 28 de janeiro, e a mínima de R$ 10,35, em 18 de março. Já a ação da Gol perdeu 85,6% de valor, entre o pico de R$ 39,05, em 23 de janeiro, e a depressão de R$ 5,60, também no dia 18 de março.
Pense em alguém que tinha R$ 10 mil investidos em ações de empresas aéreas brasileiras no começo de março. Em menos de um mês, essa pessoa se viu com parcos R$ 1,6 mil. Em situações assim, perde quem não tem sangue frio e confiança na retomada. E costuma ganhar quem identifica no movimento atípico uma oportunidade para ir às compras. De fato, quem teve estômago para investir nas aéreas, em março, experimentou uma valorização que muitos investidores não veem numa vida inteira. As ações da Azul subiram mais de 100% de lá até setembro. As da Gol, 200%. Mesmo assim, os valores seguem longe das médias pré-pandemia. E as subidas não foram provocadas por resultados financeiros animadores, mas por pura fé numa eventual retomada lá na frente. A Gol fechou o segundo trimestre de 2020 com prejuízo de R$ 1,9 bilhão. A Azul, de R$ 2,9 bilhões.
Operação ajustada
Para abrandar a crise, ainda em março o governo federal postergou o recolhimento de taxas e outorgas aeroportuárias, além de prorrogar obrigações de reembolso das aéreas. Ao mesmo tempo, as companhias iniciaram um rearranjo sem precedentes em suas operações. A primeira medida foi a suspensão de quase todos os voos ao exterior. Depois, reduziram severamente a operação doméstica, garantindo apenas viagens essenciais. “O passo seguinte foi definirmos a postergação e a renegociação de todos pagamentos e contratos que tínhamos”, explica Renzo Rodrigues de Mello, diretor de canais de vendas da Gol. Na Azul (e na Latam) não foi diferente.
As renegociações começaram pelos “lessores”, as empresas donas das aeronaves, que cobram o leasing delas todo mês. Com um mercado em desaceleração generalizada, não foi difícil conseguir que eles estendessem os prazos dos aluguéis – que representam cerca de 15% dos custos operacionais de uma empresa aérea. Dessa forma, as companhias mataram dois coelhos com um só golpe: como os contratos de leasing são dolarizados (e a moeda bateu em R$ 6 em maio), a renegociação representou fôlego cambial, já que o dólar começou a baixar. Segundo a Azul, a medida permitirá uma economia de R$ 3,2 bilhões de capital de giro até 2021. É praticamente um empréstimo a juro zero.
O diálogo com credores envolveu também fornecedores de peças, fabricantes de aeronaves e funcionários. Para evitar demissões em massa, Gol e Azul fizeram acordos de redução de jornada e salários, que poderão durar até 18 meses. Na Latam, a situação é mais delicada. Incapaz de honrar suas dívidas, a Latam Brasil entrou com pedido de recuperação judicial nos EUA, seguindo o caminho das demais subsidiárias do grupo, sediado no Chile.

Em meio à tempestade, de qualquer forma, uma boa notícia: o code share entre a Latam e a Azul. O compartilhamento de voos começou em agosto e inclui 64 rotas. A parceria também abrange os programas de fidelidade de ambas as companhias. “Em uma indústria com excesso de capacidade, isso faz todo sentido”, diz Alexandre Kogake, analista da Eleven Financial.
Desde o anúncio, em junho, passou-se a especular uma eventual fusão entre as companhias. No mês seguinte, um relatório do Bradesco BBI sugeriu que “uma fusão completa parece muito complexa e também exigiria um acordo abrangente de acionistas e controladores para acomodar vários interesses”. Entre os impasses estariam a recuperação judicial da Latam (que colocaria a Azul no processo em caso de fusão), as normas de diferentes países envolvidos na operação (Brasil, Chile e EUA) e a rivalidade entre os atuais acionistas – a Delta é investidora da Latam, enquanto a United tem lugar no Conselho da Azul.
A solução mais simples seria a aquisição da Latam Brasil pela Azul, conforme sugere o Bradesco BBI, por US$ 1,9 bilhão. O investimento ajudaria na reorganização das operações da Latam, ao mesmo tempo que permitiria a entrada da Azul, fortemente ligada à aviação regional, em mercados ainda pouco explorados – como Congonhas, Brasília e rotas internacionais. “Do ponto de vista do setor brasileiro, a aquisição é uma boa solução. Haveria complementariedade de operações”, salienta o especialista em aviação Adalberto Febeliano, vice-presidente da Modern Logistics.
Não deixa de ser irônico considerar um possível duopólio entre Gol e Azul. Até março, esperava-se para o setor o aumento da concorrência, com a iminente entrada de empresas low cost no país. Mas Latam e Azul negam que o code share seja um prelúdio de união. “Todo movimento assim gera especulação. Não tem nada além de um acordo básico”, afirma Marcelo Ribeiro, da Azul. Mas a situação pode mudar? “O futuro a Deus pertence. Se alguém nos falasse em code share com a Latam seis meses atrás, a gente diria que não. Mas aconteceu.”
Otimismo no horizonte
Graças ao aumento da flexibilização e à gradual retomada das atividades, as companhias buscam passar uma mensagem de segurança e otimismo. Tanto para passageiros quanto para investidores. Após renegociar com credores e funcionários, Azul e Gol garantem ter liquidez para suportar ao menos 12 meses de turbulência. Além disso, ambas ressaltam que a recuperação passa pelo perfil estratégico de suas frotas – que são bem distintos, diga-se. Como a Gol só opera Boeings 737, a complexidade de sua operação é menor. Além disso, em 2021 a empresa espera um lote de 95 Boeings 737 Max, modelo modernizado e que passa por um recall. O novo 737 tem alcance de 6,5 mil quilômetros, mil a mais que o atual, e consome 15% menos combustível. “O Max já era estratégico. Por conta da crise, tornou-se ainda mais importante”, destaca Renzo de Mello.
Já a Azul trabalha com aeronaves de diferentes modelos e tamanhos – o que sai mais caro em termos de manutenção, mas também traz algumas vantagens. Exemplo disso é o trecho São Paulo-Ribeirão Preto, onde a empresa pode ofertar um voo numa aeronave grande, um A320neo, com 174 lugares. Se os assentos não forem todos vendidos, a opção pode ser por um avião médio, como o Embraer 195, de 132 lugares. Caso a vacância persista, basta utilizar um ATR-72, de 74 lugares. E se, por acaso, quase ninguém comprar passagens, há ainda a possibilidade de um Cessna Gran Caravan, que leva nove pessoas a bordo. O modelo é parte da operação da Azul Conecta, subsidiária de voos regionais lançada em agosto, após aquisição da Two Flex pela Azul. Com tantas opções, a companhia evita queimar dinheiro com assentos ociosos, reduz a despesa por passageiro e ainda potencializa a lucratividade. “Somos uma empresa que tem o controle de custos na veia”, diz Ribeiro.
A plena recuperação, porém, também depende de fatores que estão totalmente fora do alcance das empresas. Entra nessa equação o interesse dos passageiros, especialmente daqueles que costumavam viajar a negócios. Antes do coronavírus, os voos corporativos representavam de 60% a 70% das reservas de voo no Brasil. “Se não virmos os viajantes a negócios retornando no início do próximo ano, e se a demanda por viagens de lazer continuar fraca, não podemos ignorar o potencial de mais companhias aéreas irem à falência”, prevê Henry Harteveldt, fundador do Atmosphere Research Group, empresa de análise de viagens baseada em San Francisco, nos EUA. Até o início de setembro, decretaram falência a Avianca Brasil, a britânica flybe e a subsidiária low cost da Iberia, Level Europe. Além da Latam, houve pedidos de recuperação judicial pela Virgin Atlantic, AeroMexico e Norwegian Air.
Por ora, as companhias preferem acreditar que a calmaria dos viajantes corporativos é momentânea. E que, mesmo com a explosão das chamadas de vídeo, o olho no olho ainda seria indispensável no mundo dos negócios. Trata-se apenas de torcida, claro. As videoconferências geram uma economia brutal, e as corporações já se acostumaram com elas. É virtualmente impossível que tudo volte a ser exatamente como antes.
De resto, pessoas que visitam familiares, amigos ou com residência em mais de uma cidade também retomaram suas rotinas de voo, ao menos em parte. Já o turismo de lazer tradicional, com pacote de viagem e hotel, segue patinando – sua recuperação depende do sucesso de uma vacina contra a Covid-19.
Para aqueles que precisam viajar durante a pandemia e têm medo do vírus, as empresas alardeiam os novos procedimentos de limpeza e segurança. O totem para o check-in foi dispensado (de modo que os passageiros confirmem de casa seus lugares no voo), as máscaras são obrigatórias e a cada voo é feita uma desinfecção total dos locais de contato dos passageiros – assentos, cintos, bandejas, apoios de mão. Além disso, as aeronaves são equipadas com filtros de ar capazes de extrair mais de 99% de vírus, bactérias e fungos. E o volume de ar é trocado a cada 3 minutos.
Já para aqueles que querem investir em ações como as de Gol e da Azul, é preciso redobrar a cautela. Embora a média de voos diários esteja subindo de maneira geral – chegou a 797 em agosto, equivalente a 40% da operação do ano passado –, o horizonte segue nebuloso. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de longo prazo das duas empresas. A Azul passou de “B-” para “CCC” e a GOL, de “B-” para “CCC-”.
Conforme a Fitch, o rebaixamento decorre da baixa demanda por viagens no país, da incerteza quanto à recuperação do mercado e da possível dificuldade em levantar crédito nos próximos meses. Para aumentar a confiança de investidores, as empresas fazem o possível para verem suas expectativas confirmadas. Até o fim do ano, as duas projetam dobrar a operação atual, voltando ao patamar de 80% dos voos realizados em 2019. O nível de 100% é estimado para o segundo trimestre de 2021, bem antes das projeções da Iata, que calcula níveis pré-pandemia apenas em 2023. Apesar de todos os esforços, como se pode perceber, não são poucas as dúvidas que pairam no ar.


 Entenda as origens do 1º de maio, Dia do Trabalhador
Entenda as origens do 1º de maio, Dia do Trabalhador






